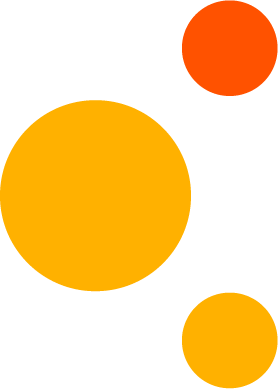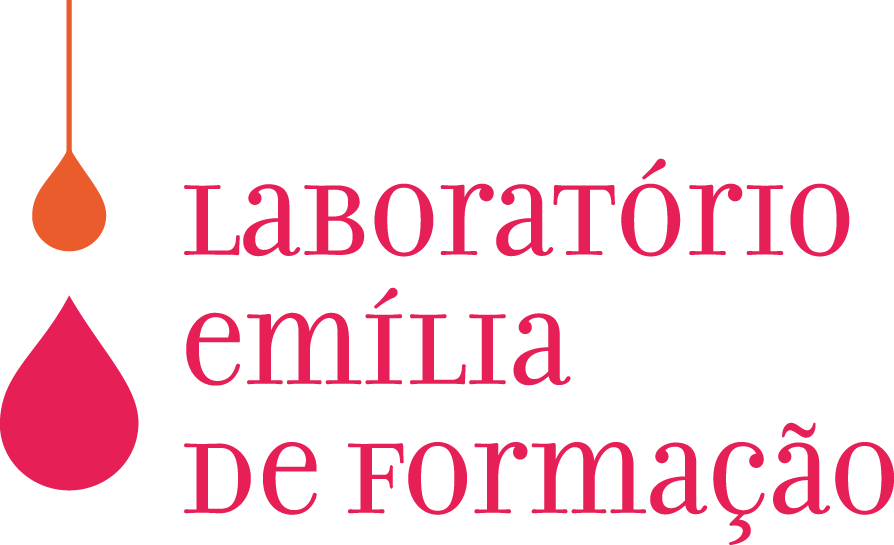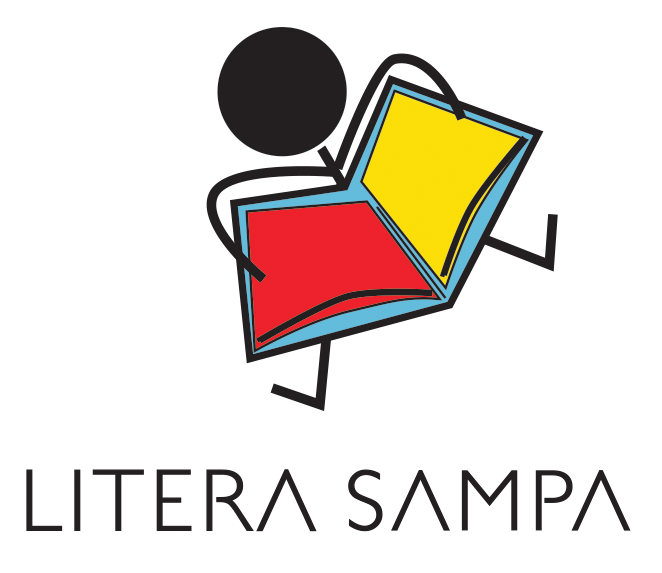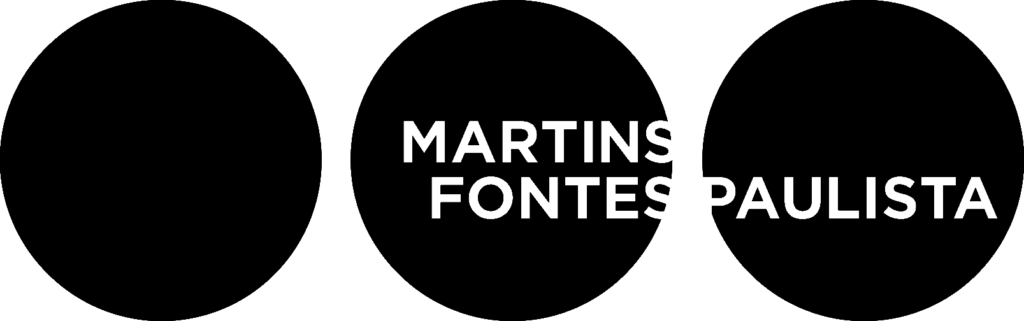Assim como quase todo mundo, cresci escutando no rádio, nos discos e na televisão, uma sonora enxurrada de canções. Tenho certeza de que algumas delas marcaram profundamente minha maneira de enxergar a vida. Estas, de certa forma, foram estruturantes da pessoa que sou e fazem parte do arcabouço correspondente à construção do meu jeito de ser no mundo.
Neste sentido, tiveram papel equivalente tanto ao que aprendi em casa com meus pais, no ambiente familiar, como ao que aprendi na vida escolar. Na verdade, certas canções tiveram o dom de trazer pontos de vista não convergentes aos cultivados seja por minha família, seja pela escola e, por essa razão, correndo por fora, serviram para, de forma espontânea, ampliar minha visão crítica a respeito das coisas, permitindo confrontar e analisar melhor tanto os costumes e valores da minha casa, como as lições escolares.
Como vou mencionar canções ouvidas na infância creio que, para situar o leitor, vale esclarecer que nasci na cidade de São Paulo no ano de 1949
Começo com “Xote das meninas”, de Luiz Gonzaga, gravada em 1953.
Escutei muitas vezes essa canção durante a infância, na voz calorosa de Gonzaga, em disco que tínhamos em casa e tocando nos programas de rádio.
Eis a letra:
Mandacaru quando fulora na seca
É o siná que a chuva chega no sertão
Toda menina que enjôa da boneca
É siná que o amor já chegou no coração…
Meia comprida não quer mais sapato baixo
Vestido bem cintado não quer mais vestir chitão…
Ela só quer
Só pensa em namorar
Ela só quer
Só pensa em namorar… (refrão)
De manhã cedo já tá pintada
Só vive suspirando
Sonhando acordada
O pai leva ao dotô
A filha adoentada
Não come, nem estuda
Não dorme, não quer nada…
Mas o dotô nem examina
Chamando o pai do lado
Lhe diz logo em surdina
Que o mal é da idade
Que para tal menina
Não tem um só remédio
Em toda medicina…
Imagino que, primeiro, a canção tenha me conquistado pela melodia, que é linda. Pouco a pouco, porém, meu coração e meu pensamento de criança foram escutando e compreendendo melhor o que dizia a letra.
Foi uma riqueza e uma descoberta perceber que não só a natureza floresce, mas também a menina da canção e, portanto, todas as pessoas, inclusive eu mesmo. Lembro de ter achado essa imagem muito bonita assim como a expressão “fulora”.
A letra de “Xote das meninas” me fez, ainda, olhar as meninas mais velhas, as quais eu começava a admirar, com uma melhor compreensão. Sua vaidade, seu jeito caprichado de se vestir e de andar, não eram iguais aos das meninas da minha idade e eram explicados com clareza pela letra. Mesmo o comportamento por vezes vaidoso das mulheres adultas, minha própria mãe, minhas tias e primas mais velhas, assim como as mães de amigos vizinhos, passou de algum forma a ser melhor compreendido por mim.
Pensava comigo algo como: as meninas mais velhas são tão bonitas porque já estão na idade de namorar. Um dia eu também vou chegar nessa idade e vou poder namorar com elas!
Também chamava atenção na letra, a preocupação equivocada do pai e a sabedoria do médico. Elas sugeriam que meus pais podiam se preocupar de forma errada e exagerada comigo ou com as coisas da vida e, mais, que fora deles havia conhecimento e muito.
Isso era importante para mim. Meus pais eram mais velhos que os pais dos meus colegas. Fora isso, particularmente meu pai, por ser professor, representava uma solidez de conhecimentos que parecia infalível e um pouco sufocante. Eu era o penúltimo filho. Quando tinha oito anos meu pai já andava pela casa dos cinquenta. Era gostoso imaginar que aquele senhor careca, de bigode, cabelos grisalhos, sempre de cachimbo no canto da boca, era passível de estar redondamente enganado. A letra do xote de Luiz Gonzaga me abriu essa perspectiva e, com o passar do tempo, percebi que obviamente ela estava certa.
E mais um ponto: segundo “O xote das meninas”, nem tudo podia ser explicado pela ciência e pela lógica. Havia a medicina, mas havia a vida mesmo e, por exemplo, questões humanas, namoros e paixões não podiam ser tratados como parte dos problemas médicos ou científicos. Em outras palavras, diante de certos assuntos, nem a ciência nem a técnica podiam resolver. Mais tarde encontrei a mesma ideia nas palavras de P.J. Stahl: “a ciência explica o relógio mas não consegue explicar o relojoeiro”. Perceber tudo isso, ainda criança e mesmo que forma de precária, foi muito bom e me marcou até porque, apesar de sua óbvia importância, essas lições não eram ensinadas nem em casa nem, muito menos, na escola.
Outra canção de Luiz Gonzaga me marcou e me emocionou bastante: “Boiadeiro”. Eis a letra:
Vai boiadeiro que a noite já vem
Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bemDe manhazinha quando eu sigo pela estrada
Minha boiada pra invernada eu vou levar
São dez cabeça é muito pouco é quase nada mas não tem outras mais bonitas no lugarVai boiadeiro que o dia já vem
Leva o teu gado e vai pensando no teu bem
De tardezinha quando eu venho pela estrada
A fiarada ta todinha a me esperar
São dez filhinho é muito pouco é quase nada mas não tem outros mais bonitos no lugarVai boiadeiro que a tarde já vem
Leva o teu gado e vai pensando no teu bemE quando eu chego na cancela da morada
Minha Rosinha vem correndo me abraçar
É pequenina é miudinha é quase nada mas não tem outra mais bonita no lugarVai boiadeiro que a noite já vem
Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem
Adorava essa belíssima toada. Ela me fazia bem e me apaziguava. Faz isso até hoje.
Talvez porque descreva uma vida com sentido. Ou porque fale de felicidade mesmo na pobreza. E na importância da família e dos filhos. E de um marido amoroso que volta feliz para casa depois de um dia duro de trabalho.
Como criança, gostaria que minha vida tivesse algum sentido. Gostaria de ser feliz. Adoraria imaginar que meu pai voltava contente da faculdade, onde dava aulas, cheio de saudade dos filhos, nós éramos cinco, e de minha mãe.
Na realidade, nem sempre as coisas pareciam muito assim. Meu pai retornava tarde e cansado da faculdade, em geral eu já estava dormindo, e minha mãe vivia exausta e atarantada às voltas com os afazeres domésticos.
Havia, por vezes, no dia a dia de minha casa, um certo ar de desconsolo e desconforto. De alguma forma, minha sensação era a de que meus pais nem sempre conseguiam dar conta do recado diante dos trabalhos da casa e da família.
Talvez exatamente por isso, “Boiadeiro” me fizesse tão bem. Sua letra me garantia que a vida plena de sentido era possível e podia existir até mesmo no sertão distante e na pobreza.
Além disso, depois de ouvir essa canção, acho que passei a prestar mais atenção e a admirar a gente que morava na roça e os trabalhadores braçais de um modo geral.
Afinal, pensava eu, mesmo que de forma tosca e que só hoje posso descrever com mais clareza, se a vida tinha algum sentido, ele não era necessariamente ligado à condição econômica e coisas assim.
Poderia citar muitas e muitas canções desse extraordinário artista popular que foi e ainda é Luiz Gonzaga, pois sua obra continua viva e contemporânea, mas vou parar por aqui.
No fim da década 50, por volta de 1957, apareceu em casa o disco Os sambas que gostamos de cantar do Trio Irakitan. Durante muito tempo, esse maravilhoso long play não saiu da vitrola e aquelas canções foram pouco a pouco me impregnando. Gostava de quase todas, mas vou citar apenas duas. A primeira é “Agora é cinza” de Bide e Marçal. Eis a letra:
Você partiu, saudades me deixou
Eu chorei
O nosso amor foi uma chama
Que o sopro do passado desfaz
Agora é cinza
Tudo acabado e nada maisVocê partiu de madrugada
E não me disse nada
Isto não se faz
Me deixou cheio de saudades e paixão
Não me conformo com a sua ingratidãoChorei porque
Agora desfeito o nosso amor
Eu vou chorar de dor
Não posso esquecer
Vou viver
Distante dos seus olhos, ó querida
Nem me deu um adeus por despedida
Como em quase todos os casos, fui primeiramente enfeitiçado pela melodia desse samba antológico. Mas, de audição em audição, fui me dando conta da letra e ela, tenho certeza, mexeu comigo.
A imagem de um amor que foi chama e virou cinza era forte para mim, criança ainda, e desacostumado com os recursos da linguagem poética.
Talvez, pela primeira vez na vida, tenha me dado conta de que o sentimento do amor podia acabar e que casais, antes felizes, podiam tornar-se infelizes e acabar se separando.
Mais um ponto: a letra mencionava uma separação unilateral. No caso, não houvera consenso. Pelo que entendi, a mulher abandonou o companheiro que ficou sozinho chorando cheio de saudades e paixão.
Na época, tinha amigos que moravam em frente. Viviam brincando na minha casa e eu na deles. Pois bem, seus pais se separaram e, realmente, pude acompanhar de perto a tristeza que se instalou no seio daquela família. O pai dos meus amigos parece que tinha arranjado outra mulher e saiu de casa.
Nunca tive coragem de tocar no assunto com meus amigos vizinhos.
Sei que, de um dia para o outro, seu pai desapareceu deixando em seu lugar uma mulher que vivia chorando pelos cantos e os filhos abatidos e sem saber direito o que pensar nem fazer. É preciso dizer que separações eram menos comuns naqueles tempos.
A situação, relativa à vida concreta, envolvia dor e sofrimento e tinha tudo a ver com a letra do samba “Agora é cinza”.
Você partiu de madrugada
E não me disse nada
Isto não se faz
Me deixou cheio de saudades e paixão
Não me conformo com a sua ingratidão
E seu meus pais também resolvessem se separar? E se meu pai ou minha mãe um dia partisse de madrugada sem se despedir?
Tento dizer que com “Agora é cinza” certas angústias antes impensáveis ou indizíveis ganharam forma, corpo e alma dentro de mim. Por outro lado, elas certamente me ajudaram a amadurecer e me tornar um pouco mais atento às possibilidades que a vida podia me reservar.
No mesmo disco, porém, havia outro samba que eu adorava e adoro até hoje: “Ora, ora!” de Almanyr Grego e Gomes Filho:
Ora, ora lá vem você outra vez
Perguntar pela mulher que lhe abandonou
Ela agora está em boa companhia
Lava roupa noite e dia
E nunca se queixouEla diz a todo mundo que é feliz
E que canta para alguém adormecer
E diziam que essa mulher era só chiquê
Qual o quê, qual o quê!Já não quer saber de usar mais o chapéu
Deixa o seu cabelo solto sempre ao léu
E diziam que essa mulher era só chiquê
Qual o quê, qual o quê
De certa forma, a letra desse samba trazia o outro lado da moeda com relação a “Agora é cinza”.
Creio que foram meses escutando aquele samba delicioso e sincopado, até me dar conta de que a voz que cantava, na verdade, tinha ficado com a mulher citada. Ele e mais ninguém era a tal “boa companhia”!
Fiquei admirado quando percebi a discreta ironia daquele samba.
Sei que a letra de “Ora, ora!” me deu muito o que pensar.
Primeiro, descobri que uma separação amorosa podia ter vários lados. Alguns dolorosos, no samba apresentados pelo cara que perguntava pela mulher. Outros, alegres, tinham a ver com o novo par amoroso que se formava.
Fui pego de surpresa com o fato de que o antigo companheiro e o atual, no samba, conversavam e trocavam ideias sem grandes ciúmes, brigas ou ressentimentos
Aquilo me fez intuir, mesmo que de forma pouco clara, algum sinal de civilidade, equilíbrio e bom senso.
Também pensei muito na mulher mencionada no samba.
A letra deixava claro que ela agora era mais feliz e “até cantava para alguém adormecer”!
Pensava comigo: péra aí, esse alguém não é uma criança! Em outras palavras, se a tal mulher cantava até o namorado adormecer, concluí eu, as relações entre
adultos até que podiam ser bem gostosas. E ainda me perguntava: afinal, por que antes diziam que aquela mulher era “só chiquê”? Isso significada que ela anteriormente era considerada metida a besta, ou vaidosa e posuda, ou que só ligava para as aparências, críticas comuns feitas às mulheres pelos homens naquele tempo e de certa forma, convenhamos, até hoje.
Sinto que a letra de “Ora, ora!”, talvez tenha plantado em mim a semente da dúvida com relação àquelas críticas que, mais tarde, vim a saber que eram machistas. Em outras palavras, pude contrapô-las à possibilidade de uma relação entre homens e mulheres que fizesse sentido e ficasse longe de preconceitos e idiotices.
Mudo de assunto para mencionar o samba “Zelão” do grande compositor Sérgio Ricardo, lançado em 1960, que tocou muito no rádio. Eis a letra:
Todo o morro entendeu
Quando Zelão chorou
Ninguém riu
Ninguém brincou
e era carnaval (refrão)No fogo de um barracão
Só se cozinha ilusão
Restos que a feira deixou
E ainda é pouco sóMas assim mesmo Zelão
Vivia sempre a sorrir
Um pobre ajuda outro pobre
Até melhorarChoveu, choveu
E a chuva botou o seu barraco no chão
Nem foi possível salvar o violão
Que acompanhou morro a baixo a canção
Das coisas todas chuva deixou
Pedaços tristes do seu coração
Escutei milhares de vezes essa bela e triste canção na voz do próprio Sérgio
Ricardo. Ficava emocionado com a letra: “todo o morro entendeu quando Zelão chorou: ninguém rio, ninguém brincou, e era carnaval”. Adorava aquela mudança brusca da segunda parte: “choveu, choveu, a chuva jogou seu barraco no chão”. Parece até que a letra chovia e que música e letra despencavam morro abaixo levados pela tempestade!
Note-se que já naquela época, sempre que chegava o verão, lá vinham as chuvas torrenciais e, com elas, desmoronamentos, tragédias e gente soterrada, noticiados nas páginas dos jornais e em reportagens na televisão. E estou falando de cerca de 50 anos atrás!
Eram muitas e complexas as questões e contradições que aquele samba trazia: de um lado, a vida absurdamente miserável e precária dos pobres: “no fogo de um barracão, só se cozinha ilusão, restos que a feira deixou…”. De outro, a força inesperada que a solidariedade e a esperança podiam ter: “um pobre ajuda outro pobre até melhorar”.
Fora isso, a letra mencionava o carnaval, uma festa popular da qual eu era distante e cuja a importância ainda não havia compreendido e valorizado. E ainda o amor do povo pela música, pelo samba, pelo violão destroçado debaixo do chuvaréu.
Mais tarde, outro samba, sobre o mesmo assunto, grande sucesso no rádio, chegou para deixar sua marca dentro de mim: “Acender as velas” (1965) do extraordinário Zé Kéti.
Ficava paralisado diante do rádio escutando essa bela, dura e dramática canção. Eis a letra:
Acender as velas
Já é profissão
Quando não tem samba
Tem desilusão (refrão)É mais um coração
Que deixa de bater
Um anjo vai pro céuDeus me perdoe
Mas vou dizer
Deus me perdoe
Mas vou dizerO doutor chegou tarde demais
Porque no morro
Não tem automóvel prá subir
Não tem telefone prá chamar
E não tem beleza prá se ver
E a gente morre sem querer morrer
Meu pai era professor universitário e, graças a isso, embora não fossemos ricos, tínhamos uma vida bastante segura e confortável.
Se, por um lado, isso era muito bom, havia o outro lado. E o monte de pobres que eu via perambulando no centro da cidade? E a favela do Buraco Quente construída perto de casa, no vale onde hoje passa a avenida Sumaré? E a miséria que via muitas vezes nas famílias que moravam perto do nosso sítio na Estrada do Corredor, entre Arujá e Itaquaquecetuba?
Se até hoje a injustiça social e a falta de oportunidades para muitas e muitas pessoas me incomoda e me deixa constrangido, imagine naquele tempo!
Uma coisa é certa: tamanha diferença social era e continua sendo imoral e injustificável e as crianças logo se dão conta disso.
Pois o samba de Zé Kéti apresentava, sem papas na língua, a situação cotidiana vivida pelos pobres e favelados brasileiros.
O doutor chegou tarde demais
Porque no morro
Não tem automóvel prá subir
Não tem telefone prá chamar
E não tem beleza prá se ver
E a gente morre sem querer morr
Tanto “Zelão” como “Acender as velas” são sambas antológicos que todos os brasileiros deveriam conhecer e saber de cor. Eles têm o dom de fazer a gente se identificar com os pobres e detestar ter que conviver com a pobreza e a injustiça social. Em suma, têm o dom de deixar a gente um pouco mais humano e civilizado. Seria muito bom se fossem conhecidos e discutidos sistematicamente nas escolas do Brasil inteiro. Talvez ajudassem nossos estudantes a tomar consciência de nossos inúmeros e graves problemas sociais.
Agora vou citar uma canção criada por dois grandes artistas brasileiros: Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Morais: “A felicidade” (1959). Eis a letra:
Tristeza não tem fim
Felicidade sim (refrão)A felicidade é como a gota
De orvalho numa pétala de flor
Brilha tranquila
Depois de leve oscila
E cai como uma lágrima de amorA felicidade do pobre parece
A grande ilusão do carnaval
A gente trabalha o ano inteiro
Por um momento de sonho
Pra fazer a fantasia
De rei ou de pirata ou jardineira
Pra tudo se acabar na quarta-feira(refrão)
A felicidade é como a pluma
Que o vento vai levando pelo ar
Voa tão leve
Mas tem a vida breve
Precisa que haja vento sem pararA minha felicidade está sonhando
Nos olhos da minha namorada
É como esta noite, passando, passando
Em busca da madrugada
Falem baixo, por favor
Pra que ela acorde alegre com o dia
Oferecendo beijos de amor
Conheci essa canção maravilhosa graças a um compacto duplo que tínhamos em casa e que trazia, simplesmente, além de “Felicidade”, “Frevo”, “Manhã de carnaval” e “O nosso amor”, na voz de ninguém menos do que João Gilberto. Trata-se de um disco antológico com quatro obras primas da nossa canção popular, cantadas por um dos nossos mais importantes e inovadores artistas. É muita coisa para um disco só.
Escutar “Felicidade” foi uma descoberta. Talvez pela primeira na vida tive contato de forma nítida e explícita com a poesia e com a metáfora. Fiquei deslumbrado diante da forma como as palavras eram usadas. De cara me chamaram a atenção os dois versos abaixo:
A felicidade é como a gota
De orvalho numa pétala de flor
Brilha tranquila
Depois de leve oscila
E cai como uma lágrima de amorE
A felicidade é como a pluma
Que o vento vai levando pelo ar
Voa tão leve
Mas tem a vida breve
Precisa que haja vento sem parar
Repito: fiquei deslumbrado diante dessas imagens. Elas me emocionaram e, ao mesmo tempo, me fizeram pensar muito, na vida, na alegria, na tristeza, na delicadeza das coisas, na precariedade, enfim, em assuntos sobre os quais nunca havia pensado antes mas que, de alguma forma, pressentia. Anos mais tarde, lendo os teóricos da literatura, aprendi que a poesia costuma tratar do indizível, do inominável, daquilo que sentimos mas não conseguimos colocar em palavras ou mesmo daquilo que jamais caberá em palavras. Ao tentar dizer o que é impossível de ser dito, o poeta expande tanto a nossa maneira de ser, como a de ver a vida e o mundo. De fato, ao escutar “Felicidade”, mesmo que tenha sido de forma inconsciente, tive essa exata sensação. Como alguém podia dizer coisas tão profundas de forma tão direta, simples e bela? Talvez meu interesse pela poesia tenha sido despertado definitivamente no dia em que, pela primeira vez, escutei e compreendi essa canção.
Mas ela ainda conseguiu me trazer mais coisas!
Uma delas: criança da classe média, eu só conhecia, e mal, o carnaval brincado nos clubes, um baile exclusivista para um grupo restrito de pessoas. O carnaval popular, com seus cordões de rua e sua alegria solidária e transgressora, aparecia na televisão mas, de certa forma, era incompreensível para mim.
Enquanto “Zelão” ressaltava tanto a alegria como a importância do carnaval, “A felicidade” dava mais detalhes:
A felicidade do pobre parece
A grande ilusão do carnaval
A gente trabalha o ano inteiro
Por um momento de sonho
Pra fazer a fantasia
De rei ou de pirata ou jardineira
Pra tudo se acabar na quarta-feira
Em suma, a letra de Vinícius de Morais, com o verso “a grande ilusão do carnaval” tratava de assuntos variados: notadamente, a luta do povo para manter a esperança e a importância, para as camadas populares, da festa e da comemoração. Como mais tarde aprendi com Carlos Rodrigues Brandão, há na festa um certo espírito coletivo que periodicamente deve ser resgatado, algo que ocorre através de um “nós”, dentro de cada participante, e que, ao mesmo tempo, os identifica e os une. A citação é longa, mas vale a pena:
a vida passa, passamos. Tudo muda, e tudo é o mesmo: mudamos, somos agora o que não éramos ainda, mas somos os mesmos, diversos: ao mesmo tempo um outro e eu. Envelheço, “vejo em mim o tempo do mundo passar” e isso pesa. Mas eis que os símbolos dos sistemas de festas de que sou parte, ou alvo, aos poucos me ensinam a substituir a pura energia do desejo do prazer, ou o temor de seu fim em mim, pela serena vontade de conviver em paz comigo mesmo, entre todos, e possuir a compreensão de tudo. Eis que a festa restabelece laços. Sou eu que se festeja, porque eu sou daqueles e daquilo que faz a festa. Estou sólida e afetivamente ligado a uma comunidade de eus-outros que cruzam comigo a viagem do peso da vida e da realíssima fantasia exata das festas que nos fazemos, para não esquecer isto. Juntos, diferencialmente irmanados, pedimos à festa a evidência de que tudo isso, que é a vida, e a vida impositivamente social, é suportável e até bom, porque sendo irrecusável, pode ser até previsível se revivido com afeto e com sentido [A Cultura na Rua, p. 9.]
Até hoje, quando penso em festa, mas festa no duro, no sentido vital, pleno e fértil da palavra, minha cabeça remete de imediato às festas populares, sempre generosas e diversificadas, eventos onde todos, ricos e pobres, letrados e iletrados, crianças e adultos podem participar. Há nelas uma espécie de fraternidade utópica que parece apontar para algum lugar no futuro em que talvez os homens convivam melhor entre si e, dessa forma, sejam mais solidários e felizes. Tudo isso fica registrado nas letras da música popular, principalmente nas letras de samba que vira e mexe abordam e louvam a festa e o carnaval. Preciso dizer que a letra de “A felicidade” me trouxe ainda duas coisas que certamente contribuíram na construção da pessoa que sou.
Primeiramente, os versos a respeito da “namorada”:
A minha felicidade está sonhando
Nos olhos da minha namorada
É como essa noite, passando, passando
Em busca da madrugada
Falem baixo, por favor
Pra que ela acorde alegre com o dia
Oferecendo beijos de amor
Era como se a delicadeza desses versos me ensinasse como eu deveria agir diante das minhas eventuais futuras namoradas. “A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada” me fez reparar os olhos de cada menina com quem
tinha contato, na escola e em outros lugares, com especial atenção. Se pudesse resumir o que me transmitiam os versos “falem baixo por favor, pra que ela acorde
alegre como o dia, oferecendo beijos de amor” eu diria: com minha namorada que ainda desconheço vai ser preciso ter cuidado e carinho.
Para terminar, a letra dessa canção me trazia, com clareza inesperada, a existência precária da felicidade. Afinal, segundo ela, a felicidade “é uma gota… que cai como uma lágrima de amor” e é “como a pluma que o vento vai levando pelo ar”. Moleque ainda, pela primeira vez na vida, comecei a tomar consciência de um conceito muito importante a ser compreendido na vida concreta: a efemeridade.
Devo tudo isso à letra dessa extraordinária canção popular. Não é pouco!
Quero citar, mesmo que forma breve, duas outras letras sobre o carnaval, que me marcaram muito na adolescência: “Marcha da quarta feira de cinzas”, de Carlos Lyra e Vinícius de Morais (1962) e “Bloco do eu sozinho” de Marcos Valle e Ruy Guerra (1968). Ambas falam por si. Primeiramente, vejamos a letra de “Marcha de quarta feira de cinzas”:
Acabou nosso carnaval
Ninguém ouve cantar canções
Ninguém passa mais brincando feliz
E nos corações
Saudades e cinzas foi o que restouPelas ruas o que se vê
É uma gente que nem se vê
Que nem se sorri
Se beija e se abraça
E sai caminhando
Dançando e cantando cantigas de amorE no entanto é preciso cantar
Mais que nunca é preciso cantar
É preciso cantar e alegrar a cidadeA tristeza que a gente tem
Qualquer dia vai se acabar
Todos vão sorrir
Voltou a esperança
É o povo que dança
Contente da vida, feliz a cantar
Porque são tantas coisas azuis
E há tão grandes promessas de luz
Tanto amor para amar de que a gente nem sabeQuem me dera viver pra ver
E brincar outros carnavais
Com a beleza dos velhos carnavais
Que marchas tão lindas
E o povo cantando seu canto de paz
Seu canto de paz.
Eis agora a letra de “Bloco do eu sozinho”:
No Bloco do eu sozinho
Sou faz tudo e não sou nada
Sou o samba e a folia de fantasia cansada
Sou o novo e o antigo
Sou o surdo e o entrudo
Visto farrapo e veludo
Faço um breque, depois sigoNo bloco do eu sozinho
Sozinho sou cordão
Sou a esquina do caminho
Sou rei Momo e Damião
Sou o enredo da parada
Sou cachaça e sou tristeza
Pulando junto e sozinho
Faço da rua uma mesaNo bloco do eu sozinho
Sou São Jorge que passeia
Sou alguém que esquece a lua
em favor de uma candeia
Sozinho sou a cidade
Sou a multidão deserta
Pé na dança, mão aberta
Em busca da vida cheiaNo bloco do eu sozinho
Sou a seda do estandarte
Sou a ginga da baiana
Sou a calça de zuarte
Sou quem briga e deixa disso
Sou Oropa e Aruanda
Sou alegria de Rosa
que nunca brinca em serviçoNo bloco do eu sozinho
Sou a sorte e o azar
E o folião derradeiro
que abre os braços pra brincar
Sou passista e sou pandeiro
E nas pedras da calçada
Sou a lembrança mais fria
de um mundo sem madrugadaNo bloco do eu sozinho
De toda e qualquer maneira
Na bateria calada
Nas cinzas de quarta feira
Nos confetes da calçada
Nas mãos vazias de rosa
Sou alegria teimosa
Sambando pra não chorar
Poderia comentar vários aspectos dessas duas letras riquíssimas, mas vou me ater a apenas um ponto. Enquanto a letra da “Marcha de quarta feira de cinzas” remete às questões e aos interesses coletivos e poderia ser descrita como um discurso-nós ( “a tristeza que a gente vê/qualquer dia vai se acabar/ todos vão sorrir/ chegou a esperança/ é o povo que dança/ contente da vida/ feliz a cantar” etc.) , a letra de “Bloco do eu sozinho” demonstra que, mesmo dentro de uma festa popular, sempre há a perspectiva singular e individual, típica de um discurso-eu (“No bloco do eu-sozinho/ sou faz tudo e não sou nada” etc.).
Lentamente, de audição em audição, pois escutei essas canções muitas e muitas vezes (e ainda escuto), esse ponto, certamente tema central na vida de todas as pessoas, ou seja, a existência de um descompasso entre os interesses pessoais e os interesses da sociedade, surgiu na época, mesmo que de forma insinuada e sub-reptícia, quando me vi comparando e pensando nas duas letras. Essa questão, aliás, tem permeado meu trabalho e minhas inquietações até os dias de hoje.
Vou concluir essa etapa de povo, festa, pobreza e carnaval, com outra obra-prima: “O Morro Não Tem Vez” (1963) também de Tom Jobim e Vinícius de Morais:
O morro não tem vez
E o que ele fez já foi demais
Mas olhem bem vocês
Quando derem vez ao morro
Toda a cidade vai cantarSamba pede passagem
O morro quer se mostrar
Abram alas pro morro
Tamborim vai falarÉ 1, é 2, é 3, é 100
É 1000 a batucar
O morro não tem vez
Quando derem vez ao morro
Toda cidade vai cantar
“Quando derem vez ao morro/toda cidade vai cantar”. Esses versos ressoam até hoje na minha cabeça. Na época, eles tiveram o dom de, pelo menos, sugerir uma resposta possível às questões que tinham surgido em “Zelão”, “Acender as velas” e “A felicidade” entre muitas outras canções.
“Quando derem vez ao morro” queria dizer, na verdade, “quando derem vez ao povo” e, neste dia, “toda cidade vai cantar”. Ficou claro para mim, graças a essa canção, que a pobreza significava, entre outras coisas, a falta de oportunidade de alguns. Fora isso, é preciso dizer o óbvio: quando a vida do povo for melhor, mais justa e mais digna, sem dúvida alguma a vida de todo mundo será melhor e “toda a cidade vai cantar”. Trata-se de uma questão de inteligência social!
Só que a letra de “O morro não tem vez” dizia mais do que isso, coisa que só vim a descobrir bem mais tarde: quando derem vez ao povo, a cultura popular será mais conhecida e valorizada e isso será bom para todos nós. Não pretendo aprofundar esse assunto aqui, mas quero dizer que, a meu ver, a cultura popular representa um extraordinário acervo de conhecimento humano, de padrões sociais, éticos e estéticos que não coincidem com os paradigmas da cultura dominante e letrada (nem com os anseios meramente comerciais da chamada “indústria cultural”). Por essa razão, deveriam ser melhor compreendidos e estudados, principalmente se considerarmos um país como o nosso cuja população, em sua grande maioria, é marcada pela cultura do povo.
Volto ao tema das relações amorosas. Começo com “Sábado em Copacabana” de Dorival Caymmi e Carlos Guinle (1951). Preciso abrir parênteses. Cresci escutando Dorival Caymmi, adorado por meus pais, que tinham todos os seus discos. Seria chover no molhado dizer que Caymmi é um dos nossos maiores e mais consistentes artistas populares de todos os tempos. Com suas canções praieiras, por exemplo, ele tornou-se o nosso mais autêntico rapsodo. Um artista fundamental que deveria ser conhecido e louvado por todos nós, independentemente de classes sociais e faixas de idade. Mais que isso, sua obra deveria ser estudada e discutida nas escolas. Vejamos a letra:
Depois de trabalhar toda a semana
Meu sábado não vou desperdiçar
Já fiz o meu programa pra esta noite
E sei por onde começarUm bom lugar para encontrar: Copacabana
Prá passear à beira-mar: Copacabana
Depois num bar à meia-luz: Copacabana
Eu esperei por essa noite uma semanaUm bom jantar depois de dançar: Copacabana
Um só lugar para se amar: Copacabana
A noite passa tão depressa, mas vou voltar se pra semana
Eu encontrar um novo amor: Copacabana
É preciso contar que tinha parentes no Rio de Janeiro, por parte de pai e por parte de mãe, e íamos visita-los, no mínimo, uma vez por ano. Por essa razão, conhecia o bairro e a praia de Copacabana e sabia de sua inacreditável beleza.
Pois bem, a letra desse samba-canção encheu com muitas dúvidas e minhocas minha cabeça de criança. Principalmente, partes como “A noite passa tão depressa/ mas vou voltar se pra semana/ eu encontrar um novo amor: Copacabana”.
Com meus botões, me perguntava: como assim?
Confuso, de início, cheguei a imaginar que o amor a que a voz se referia era a própria Copacabana. Obviamente isso não se sustentava. Tentei então imaginar um casal de namorados que toda a semana se encontrava, passeava, jantava, dançava etc. mas isso também não dava. A letra era clara: volto a Copacabana “se (…) eu encontrar um novo amor”.
Venho de uma família católica e convencional. Meu pai era um tipo conservador e caseiro. Trabalhava o dia inteiro e voltava à noite para casa. No fim de semana, íamos para um sítio perto de São Paulo. Minha mãe era dona de casa e, como já disse, vivia às voltas com as demandas da casa e dos filhos. Os dois tinham pouca vida social e, de jeito nenhum, meu pai poderia ser descrito como boêmio, namorador ou algo assim. Minha mãe muito menos. Ambos viviam para a família e para o trabalho. Daí um certo desconcerto diante da letra de “Sábado em Copacabana”.
“Encontrar um novo amor”? Quer dizer que aquele cara não tinha uma namorada fixa? Quer dizer que a cada fim-de-semana ela arrumava uma nova namorada? Na minha cabeça de criança e segundo minha cultura familiar, as pessoas namoravam, noivavam e casavam. Não existia essa possibilidade de viver mais solto e de namorar de forma fugaz. Vim perceber essa possibilidade, que torna mais livres, complexas e imprevisíveis as relações humanas, acho que pela primeira vez na vida, por meio dessa canção.
Mais ou menos na mesma época, tocava no rádio, e certamente em casa, outra obra prima de Jobim e Vinícius: “Por toda a minha vida” (1959):
Minha bem amada
Quero fazer de um juramento uma canção
Eu prometo, por toda a minha vida
Ser somente teu e amar-te como nunca
Ninguém jamais amou, ninguém
Minha bem amada
Estrela pura, aparecida
Eu te amo e te proclamo
O meu amor, o meu amor
Maior que tudo quanto existeMeu amor
Essa belíssima e algo dramática canção trazia, ao contrário de “Sábado em Copacabana”, a força do amor idealizado, mais convencional no sentido de ter a ver com a noção lírica de “amor eterno”.
Tento dizer que eu, menino ainda, ficava espantado e curioso diante dessas alternativas relacionadas à vida humana concreta sugeridas pelas letras das canções.
É preciso reconhecer que as questões do amor e das paixões fascinam e assustam todas as pessoas, de todas as idades, tanto ontem, como hoje. Eis porque são temas permanentes cantados incansavelmente para a alegria, espanto e reflexão de todo mundo.
Falando em espanto, mais espantado fiquei quando escutei “O grande amor”, de 1960, também de Tom e Vinícius:
Haja o que houver,
Há sempre um homem, para uma mulher.
E há de sempre haver para esquecer,
Um falso amor e uma vontade de morrer.
Seja como for há de vencer o grande amor,
Que há de ser no coração
Como um perdão
Pra quem chorou
Muitas e bem complicadas para mim eram as questões colocadas por essa canção. Refiro-me principalmente, ao verso “há sempre um homem para uma mulher”, por sua clareza incomum às letras que conhecia até então e, também, ao verso “há de sempre haver para esquecer/um falso amor/ e uma vontade morrer.”.
Nunca antes na vida, acho, tinha me deparado com essa relação entre amor e morte. Lembro de ficar um pouco chocado e de sentir medo dos meus pensamentos: era possível que alguém sentisse “vontade de morrer”? E outra: o amor podia ser tão forte a ponto de fazer com que sua perda fosse capaz de dar vontade de morrer?
Sim, revelava essa extraordinária canção, com todas as letras, para um ouvinte aflito, eu, lá pelos meus 11 anos, sendo apresentado à questões da vida humana concreta, sempre complexa e repleta de alternativas não convencionais ou passíveis de controle.
Para meu alívio, a letra concluía: “seja como for há de vencer o grande amor”.
Essa vitória do amor me apaziguava por dentro, um tanto assustado com os “falsos amores” e com as “vontades de morrer”.
E essa vitória era confirmada por outra canção maravilhosa: “Amor em paz”, de novo de Jobim e Vinicius e também de 1960. Sua letra, de forma narrativa e linear, falava sobre a perda do amor seguida do nascimento de um novo amor. Em outras palavras trazia, de uma só vez, a dor causada pelo falso amor e a vontade de morrer curadas pelo nascimento e pelo poder vital de um novo amor:
Eu amei,
E amei ai de mim muito mais
Do que devia amar
E chorei
Ao sentir que iria sofrer
E me desesperarFoi então
Que da minha infinita tristeza
Aconteceu você
Encontrei em você
A razão de viver
E de amar em paz
E não sofrer mais,
Nunca mais
Porque o amor
É a coisa mais triste
Quando se desfaz
O amor é a coisa mais triste
Quando se desfaz
Era muita lição de vida para um sujeito de 10 ou 11 anos de idade como eu!
Vou concluir esse artigo com o samba-canção “Este seu olhar” (1959), letra e música do nosso grande e maravilhoso maestro soberano Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Eis o texto:
Este seu olhar
Quando encontra o meu
Fala de umas coisas
Que eu não posso acreditarDoce é sonhar
É pensar que você
Gosta de mim
Como eu de você!Mas a ilusão
Quando se desfaz
Dói no coração
De quem sonhou, sonhou demaisAh! Se eu pudesse entender
O que dizem os seus olhos…
Creio que desde o dia em que escutei essa canção pela primeira vez, passei a tentar observar melhor o que diziam os olhos das pessoas, de meus pais e irmãos, dos vizinhos, dos colegas de escola, dos professores, de Deus, todo mundo e mais uns três. Confesso que até hoje, ando às voltas com a força dessa intrincada, misteriosa, inesperada e primordial forma de contato humano.
Outra valiosa lição de vida e de sensibilidade proporcionada por uma letra de música.
Ressalto que as canções populares são consideradas populares por utilizarem linguagem pública e acessível, e por serem capazes de interessar e emocionar a todas as pessoas, crianças e adultos, ricos e pobres, letrados e não letrados.
Não lembro de ter discutido na escola, de forma sistemática, nenhum desses temas trazidos com tanta riqueza e agudeza por nossa música popular. Vale notar que eles vão muito além das informações técnicas, utilitárias e impessoais. São daqueles assuntos capazes de criar identificação entre todas as pessoas. São daquele assuntos capazes de dar sentido à vida da gente.
Para além de técnicos e consumidores, se a ideia for construir uma sociedade mais justa, equilibrada e inteligente, é preciso formar e diplomar pessoas que tenham pensamento crítico, saibam se expressar, sejam politizadas e cresçam impregnadas por uma cultura predominantemente humanista.
Neste sentido, creio, já está mais do que na hora de nossas salas de aula e nossos programas escolares serem gostosamente invadidos pela poesia bela, sonora, rude e poderosa da canção popular brasileira.
Imagem: Alunos da Escola Vera Cruz, Dança Cavalo Marinho, festa junina 2015.